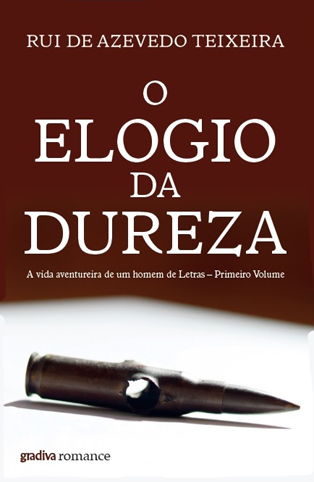1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 17 de Outubro de 2022:
1. Mensagem do nosso camarada Mário Beja Santos (ex-Alf Mil Inf, CMDT do Pel Caç Nat 52, Missirá, Finete e Bambadinca, 1968/70), com data de 17 de Outubro de 2022:Queridos amigos,
Importa não esquecer que os intelectuais guineenses de há muito dão conta de um sonho perdido, de uma esperada reconciliação entre os povos guineenses que não houve, de uma pátria bem administrada que não houve, de uma solidariedade que rapidamente se transformou numa selvática competição de interesses, cada um por si, o Bem-comum não conta, todos os sonhos de Cabral caíram por terra.
Recorde-se o filme Mortu Nega (em português, Morte Negada) de Flora Gomes, 1988, Kikia Matcho: O desalento do combatente, por Filinto de Barros, 1997, e mais recentemente o romance A Cidade Que Tudo Devorou, por Amadu Dafé, 2022, isto já sem esquecer o que escrevem ou escreveram Leopoldo Amado, Julião Soares Sousa e está espelhado na poesia de Tony Tcheka.
É uma belíssima narrativa estas Memórias SOMânticas , não encontro explicação para esta palavra, talvez tenha a ver com semânticas e românticas, o pungente mas poderoso solilóquio da combatente vai à origem das palavras, o mesmo é dizer que vai à origem do sonho que presidia aquela luta e há o quê de romantismo na sua fé e no seu inabalável sonho. Mais explicações para a palavra é assunto que cabe ao autor revelar.
Um abraço do
Mário
Fui combatente do PAIGC, conheço a desilusão, mas vivo esta paixão da liberdade à exaustão
Mário Beja Santos
"Memórias SOMântícas", de Abulai Sila, Ku Si Mon Editora, 2016, é um espantoso solilóquio de uma mulher que participou na luta, que confiava numa pátria livre e numa cadeira de rodas assiste à degradação do seu país. É o cântico de uma heroína anónima, uma narrativa escrita na primeira pessoa e num absoluto silêncio, é uma mensagem para o futuro, um tema de reflexão para as gerações que não conheceram a luta armada:
Um abraço do
Mário
Fui combatente do PAIGC, conheço a desilusão, mas vivo esta paixão da liberdade à exaustão
Mário Beja Santos
"Memórias SOMântícas", de Abulai Sila, Ku Si Mon Editora, 2016, é um espantoso solilóquio de uma mulher que participou na luta, que confiava numa pátria livre e numa cadeira de rodas assiste à degradação do seu país. É o cântico de uma heroína anónima, uma narrativa escrita na primeira pessoa e num absoluto silêncio, é uma mensagem para o futuro, um tema de reflexão para as gerações que não conheceram a luta armada:
“Esta é a história de uma vida. Uma vida que quis ser vivida. Com paixão e dignidade. Pretendo narrá-la, porque a existência só se torna memorável se for narrada. A narração, quando oportuna, restaura a crença, abrevia qualquer recordação dolorosa e enobrece a vida. Atribui-lhe cor e reverência”.
E confidencia-nos ao que vem:
“Nunca escondi as minhas ambições. Onde está o sentimento de liberdade se o que mais ambicionamos tem que ser escondido ou disfarçado? Pior ainda, privatizado. Quero que tudo o que ambicione de verdade seja também pretendido pelos meus próximos, acessível a todos, valorizado por todos”.
Orgulha-se de celebrar a vida, a despeito das ilusões, violentas e por vezes tão inesperadas. Disserta sobre a infância, a morte da mãe, os desamores familiares. Nunca aceitou a submissão, paradigma da mulher africana. Conheceu o amor, alguém que a vai despertar para a luta, ele desaparece e ela vai no seu encalço, vai para Conacri. Narra as vicissitudes de uma adaptação áspera, é hábil na negociação para se dar bem com as companheiras de quarto, o seu sonho cresce, pensa a toda a hora na independência, nas instituições do país, é mulher de esperança inabalável. Os tempos não são fáceis para ela em Conacri, assiste à chegada de gente jovem, irmanada pelos mesmos ideais, começa a trabalhar na cozinha, sente-se útil, procura afanosamente saber do seu amor que anda na luta, a todos que vêm a Conacri faz perguntas, por alguém se sabe que ele está vivo, rejubila.
Nunca lhe passou pela cabeça ser enfermeira, detestava ver sangue, a vida troca as voltas, viu-se a colaborar num bloco operatório, foi louvada, decidiram que ela seria enfermeira.
Há ali perto do hospital alguém que vende cola e se chama Tunkan, tem uma filha a viver em Bafatá e garante-lhe quando a guerra acabar que quer ir a Bafatá conhecer os netos. Gosta do seu trabalho:
Há ali perto do hospital alguém que vende cola e se chama Tunkan, tem uma filha a viver em Bafatá e garante-lhe quando a guerra acabar que quer ir a Bafatá conhecer os netos. Gosta do seu trabalho:
“Durante muitos anos ajudei a aliviar dores e a sarar feridas, tanto as visíveis como as que se escondem no fundo da alma, silenciosamente destruindo o corpo e inviabilizando sonhos. Tinha ajudado muita gente, agora tenho que ajudar-me a mim mesma, ser a minha própria enfermeira. Tenho que aperfeiçoar a arte de curar, a magia de dar sempre o que nem sempre se tem.”
É transferida para a Frente Sul, encontra o homem da sua vida em Kabukaré. E tece louvores àquela luta armada:
“Eu vi amor, paixão, entrega e determinação a germinarem, a manifestarem-se em todo o lado. Nos guerrilheiros e na população. Nas canções e no choro. Até no olhar das crianças mutiladas. Vi guerrilheiros com lágrimas nos olhos. Mas vi também o pesadelo do passado a evaporar-se sob o calor desse novo sol e descobri os contornos do novo mundo de paz e harmonia que vinha sendo anunciado nos cânticos. No escuro da pátria ainda subjugada, detetei uma tremeluzente luz projetada num horizonte não muito distante.“
Vive agora em Boké, aqui encaminha-se armamento para as frentes de combate e cuida-se os feridos, e tem o filho para criar. Ela aspira que quando a guerra acabar irão ter que investir na purificação dos corações, a vida ganhará uma outra dimensão, tem ainda interrogações para resolver:
“Porque é que havia africanos a combater ao lado dos brancos contra nós? Quando tomarmos a nossa independência e voltarmos para a nossa terra, os nossos comandantes vão continuar a confraternizar com os nossos combatentes como fazem agora? Quando acabar a guerra, o nosso Presidente vai precisa de guarda-costas armados?”
O amor da sua vida precisa de ir a Conacri, vai acompanhado do filho, irão morrer num acidente, ela está enlouquecida, o seu lenitivo é a sua amiga Ramatulai, é como uma irmã, mas há uma dor que subsiste:
“Eu sou dos inúmeros concidadãos que definitivamente vão voltar para casa magoados, com alguma amputação, temporária ou vitalícia. Eu levo todo um sonho amputado, sim, mas em vantagem em relação a muitos deles. Vou sem o meu companheiro de vida, sem o meu filho, mas com uma irmã, a minha irmã do coração.”
Chegou a hora da independência, apareceu Tunkan para ver a família, tinha o genro preso, acusado de colaborar com o exército colonial.
“Dei-lhe todas as garantias. Depois de uma guerra que vitimara tanta gente, a hora era de paz e perdão. Se estava em algum quartel ou cadeia eu iria encontrá-lo”.
Percorre o país de lés a lés, alguns dos camaradas com que tão intensamente convivera em Conacri fitam-na com desprezo, era como se ela perguntasse por uma pessoa que tinha traído, o que fazia dela uma traidora, alguém lhe dirá mesmo que para cada traidor haverá sempre uma bala no cano.
Percorre o país de lés a lés, alguns dos camaradas com que tão intensamente convivera em Conacri fitam-na com desprezo, era como se ela perguntasse por uma pessoa que tinha traído, o que fazia dela uma traidora, alguém lhe dirá mesmo que para cada traidor haverá sempre uma bala no cano.
“Como é que chegámos a este ponto? Em que se tinha tornado o meu querido país e a minha gente? Que fora feito da camaradagem que, proporcionado a permanente partilha das dificuldades dos êxitos, dos sonhos e das ambições, tornara a vida mais colorida para todos ao longo de tantos anos?”
Adoece e reage, dedica-se a uma escola frequentada por filhos órfãos do Partido. Tudo faz para que haja abastecimento seguro, vai mesmo ao Ministério da Agricultura onde pede e consegue sacos de semente de feijão, de milho, de mancarra, de arroz. Mas um dia acabou o internato, as crianças foram dispersas.
Adoece e reage, dedica-se a uma escola frequentada por filhos órfãos do Partido. Tudo faz para que haja abastecimento seguro, vai mesmo ao Ministério da Agricultura onde pede e consegue sacos de semente de feijão, de milho, de mancarra, de arroz. Mas um dia acabou o internato, as crianças foram dispersas.
“Sinto que estão por aí, entregues à sua sorte, sem a bênção de quem devia revelar-lhes as virtudes regeneradoras da fé e as lições da vida tiradas da História. Vacilei durante algum tempo e envergonho-me hoje disso.”
E é neste exato momento que Abdulai Sila tece os seus parágrafos sublimes, a renumeração daquela vida à procura do seu amor, a partilha do jubilo e das situações de desgraça, os terríveis desapontamentos de ter visto fechar um internato com órfãos de guerra, aquela mulher sentada numa cadeira de rodas lembra os órfãos da guerra, os mutilados, a solidariedade acabou, os jovens vivem sem ideais, ela não se entende com tanto despautério, é a fé que a alimenta, e então a velha combatente faz ressoar as trombetas para o futuro:
E é neste exato momento que Abdulai Sila tece os seus parágrafos sublimes, a renumeração daquela vida à procura do seu amor, a partilha do jubilo e das situações de desgraça, os terríveis desapontamentos de ter visto fechar um internato com órfãos de guerra, aquela mulher sentada numa cadeira de rodas lembra os órfãos da guerra, os mutilados, a solidariedade acabou, os jovens vivem sem ideais, ela não se entende com tanto despautério, é a fé que a alimenta, e então a velha combatente faz ressoar as trombetas para o futuro:
“Marginalizados? Nós é que domesticámos o invasor e abolimos o medo perante o desconhecido. Na calada da noite prenhe de incertezas reinventámos a vida e, bem alto no céu, fizemos soar a sinfonia da dignidade.
Deserdados? Construímos um mundo plural, onde todas as cores do arco-íris se fundem sem nunca se confundirem. Recuperámos a palavra e, abençoando-a, fizemos com que a magia da narração sustentasse os novos limites da razão.
Não erguemos troféus, não exigimos medalhas, nem guardámos ressentimentos. Impusemos um novo paradigma da inteligência: sem ser mártir nem ambicionar ser heróis, viver uma paixão até à exaustão e morrer sonhando.”
Na linha de uma literatura vincada pela dor do desapontamento de uma pátria derruída, Abdulai Sila dá-nos uma narrativa pungente onde o sonho, mesmo tão profundamente abalado, continua a ser a semente da vida, a razão por que se lutou para ser livre, é esse o derradeiro testemunho que se deixa às novas gerações. Um belíssimo texto de irrecusável leitura.
Houve tempos em que a Guiné contava entusiasticamente com quem a libertara
_____________Nota do editor
Último post da série de 12 DE ABRIL DE 2024 > Guiné 61/74 - P25377: Notas de leitura (1682): O Santuário Perdido: A Força Aérea na Guerra da Guiné, 1961-1974 - Volume II: Perto do abismo até ao impasse (1966-1972), por Matthew M. Hurley e José Augusto Matos, 2023 (20) (Mário Beja Santos)